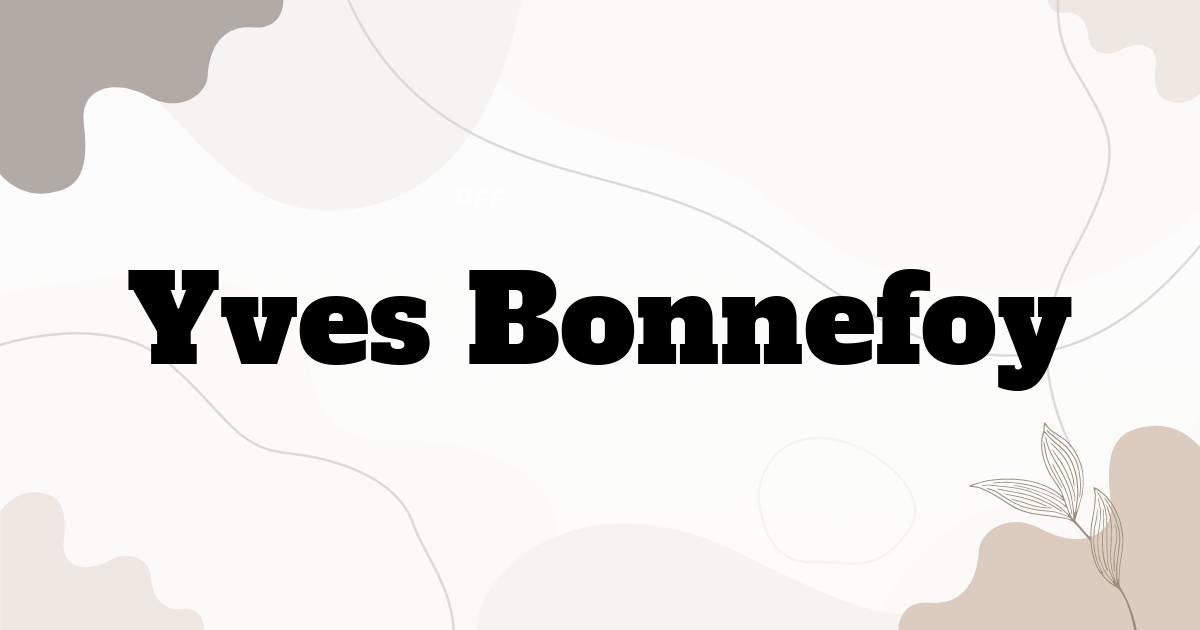Toda a recusa duma linguagem é uma morte.
A literatura não permite caminhar, mas permite respirar.
Como ciumento sofro quatro vezes: por ser excluído, por ser agressivo, por ser doido e por ser vulgar.
O fascismo não é impedir-nos de dizer, é obrigar-nos a dizer.
A linguagem é como uma pele: com ela eu entre em contato com os outros.
Como homem ciumento eu sofro quatro vezes: por ser ciumento, por me culpar por ser assim, por temer que meu ciúme prejudique o outro, por me deixar levar por uma banalidade; eu sofro por ser excluído, por ser agressivo, por ser louco e por ser comum.
A ciência é grosseira, a vida é sutil, e é para corrigir essa distância que a literatura nos importa.
“Encontro pela vida milhões de corpos; desses milhões posso desejar centenas; mas dessas centenas, amo apenas um. O outro pelo qual estou apaixonado me designa a especialidade do meu desejo.
Toda a lei que oprime um discurso esta insuficientemente fundamentada.
Em relação à Fotografia, eu era tomado de um desejo “ontológico”: eu queria saber a qualquer preço o que ela era “em si”, por que traço essencial ela se distinguia da comunidade das imagens.
Eu via muto bem que estavam em questão movimentos de uma subjetividade fácil, que acaba logo, assim que a exprimimos: gosto/não gosto: qual de nós não tem sua tábua interior de gostos, desgostos, indiferenças? Mas precisamente: sempre tive vontade de argumentar meus humores; não para justificá-los, menos ainda para preencher com minha individualidade a cena do texto, mas, ao contrário, para oferecê-la, estendê-la, essa individualidade, a uma ciência do sujeito, cujo nome pouco me importa, desde que ela alcance (o que ainda não está decidido) uma generalidade que não me reduza nem me esmague.
Para mim, o órgão do Fotógrafo não é o olho (ele me terrifica), é o dedo: o que está ligado ao disparador da objetiva, ao deslizar metálico das placas (quando as máquinas ainda as tem). Gosto desses ruídos mecânicos de uma maneira quase voluptuosa, como se, da Fotografia, eles fossem exatamente isso – e apenas isso – a que meu desejo se atém, quebrando com seu breve estalo, a camada mortífera da Pose.
Decidi então tomar como guia de minha nova análise a atração que eu senti por certas fotos. Pois pelo menos dessa atração eu estava certo. Como chamá-la? Fascinação? Não, tal fotografia que destaco e de que gosto não tem nada do ponto brilhante que balança diante dos olhos e que faz a cabeça oscilar; o que ela produz em mim é exatamente o contrário do estupor; antes uma agitação interior, uma festa, um trabalho também, a pressão do indizível que quer se dizer. Então? Interesse? Isso é insuficiente; não tenho necessidade de interrogar minha comoção para enumerar as diferentes razões que temos para nos interessarmos por uma foto; podemos: seja desejar o objetovo, a paisagem, o corpo que ela representa; seja amar ou ter amado o ser que ela nos dá a conhecer; seja espartamo-nos com o que vemos; seja admirar ou discutir o desempenho do fotógrafo, etc.; mas esses interesses são frouxos, heterogêneos; tal foto pode satisfazer a um deles e me interessar pouco; e se tal outra me interessa muito, eu gostaria de saber o que, nessa foto, me dá estalo. Assim, parecia-me que a palavra mais adequada para designar (provisoriamente) a atração que sobre mim exercem certas fotos era “aventura”. Tal foto me advém, tal outra não.
O princípio da aventura permite-me fazer a Fotografia existir. De modo inverso, sem aventura, nada de foto. Cito Sartre: “As fotos d eum jonal podem muito bem ‘nada dizer-me’, o que quer dizer eu eu as olho sem pô-las em posição de existência. Assim as pessoas cuja fotografia vejo são bem alcançadas através dessa fotografia, mas sem posição existencial, exatamente como o Cavaleiro e a Morte, que são alcançados através da gravura de Dürer, mas sem que eu os ponha. Podemos, aliás, deparar com casos em que a fotografia me deixa em um tal estado de indiferença, que não efetuo nem mesmo a ‘colação em imagem’. A fotografia está vagamente constituída como objeto, e os personagens que nela figuram estãos constituídos como personagens, mas apenas por causa de sua semelhança com seres humanos, sem intencionalidade particular. Flutuam entre a margem da percepção , a do signo e a da imagem, sem jamais abordar qualquer uma delas”.
Nesse deserto lúgrube, me surge, de repente, tal foto; ela me anima e eu a animo. Portanto, é assim que devo nomear a atração que a faz existir: uma animação. A própria foto não é em nada animada (não acredito nas fotos “vivas”) mas ela me anima: é o que toda aventura produz.
No fundo a Fotografia é subversiva, não quando aterroriza, perturba ou mesmo estigmatiza, mas quando é pensativa.
Às vezes acontece de eu poder conhecer melhor uma foto de que me lembro do que uma foto que vejo, como se a visão direta orientasse equivacadamente a linguagem, envolvendo-a em um esforço de descrição…
No fundo – ou no limite – para ver bem uma foto mais vale erguer a cabeça ou fechar os olhos. “A condição prévia para a imagem é a visão”, dizia Janouche a Kafka e Kafka sorria e respondia: “Fotografam-se coisas para expulsá-las do espírito. Minhas histórias são uma maneira de fechar os olhos”. A Fotografia deve ser silenciosa (há fotos tonitruantes, não gosto delas): não se trata de uma questão de “discrição”, mas de música. A subjetividade absoluta só é atingida em um estado, um esforço de silêncio (fechar os olhos é fazer a imagem falar no silêncio). A foto me toca se a retiro do seu blábláblá costumeiro: “Tecnica”, “Realidade”, “Reportagem”, “Arte” etc.: nada a dizer, fechar os olhos, deixar o detalhe remontar sozinho à consciência afetiva.
Essas fotos, que a fenomelogia chamaria objetos “quaisquer”, eram apenas analógicas, suscitando apena sua identidade, não sua verdade; mas a Fotografia do Jardim de Inverno, esta era bem essecial, ela realizava para mim, utopicamente, a ciência impossível do ser único.
A foto é literalmente uma emanação do referente. De um corpo real, que estava lá, partiram radiações que vêm me atingir, a mim, que estou aqui; pouco importa a duração da transmissão; a foto do ser desaparecido vem me tocar como os raios retardados de uma estrela. Uma espécie de vínculo umbilical liga a meu olhar o corpo da coisa fotografada: a luz, embora impalpável, é aqui um meio carnal, uma pele que partilho com aquele ou aquela que foi fotografado.
A fotografia sempre me espanta, com um espanto que dura e se renova, inesgotavelmente.
… a um só tempo, o passado e o real. O que a Fotografia dá como alimento ao meu espírito (que permanece insaciado)é, por um ato breve cujo abalo não pode derivar em devaneio (trata-se talvez da definição do satori), o mistério simples a concomitância.
Sou o ponto de referência de qualquer fotografia, e é nisso que ela me induz a me espantar, dirigindo-me a pergunta fundamental: por que será que vivo aqui e agora? Certamente mais que outra arte, a Fotografia coloca uma prsença imediata no mundo – uma co-presença; mas essa presença não apenas de ordem política (“participar dos acontecimentos contemporâneos pela imagem”), ela é também de ordem metafísica.
A Fotografia não fala (forçosamente) daquilo que não é mais, mas apenas e com certeza daquilo que foi.
Assim é a Foto: não pode dizer o que ela dá a ver.